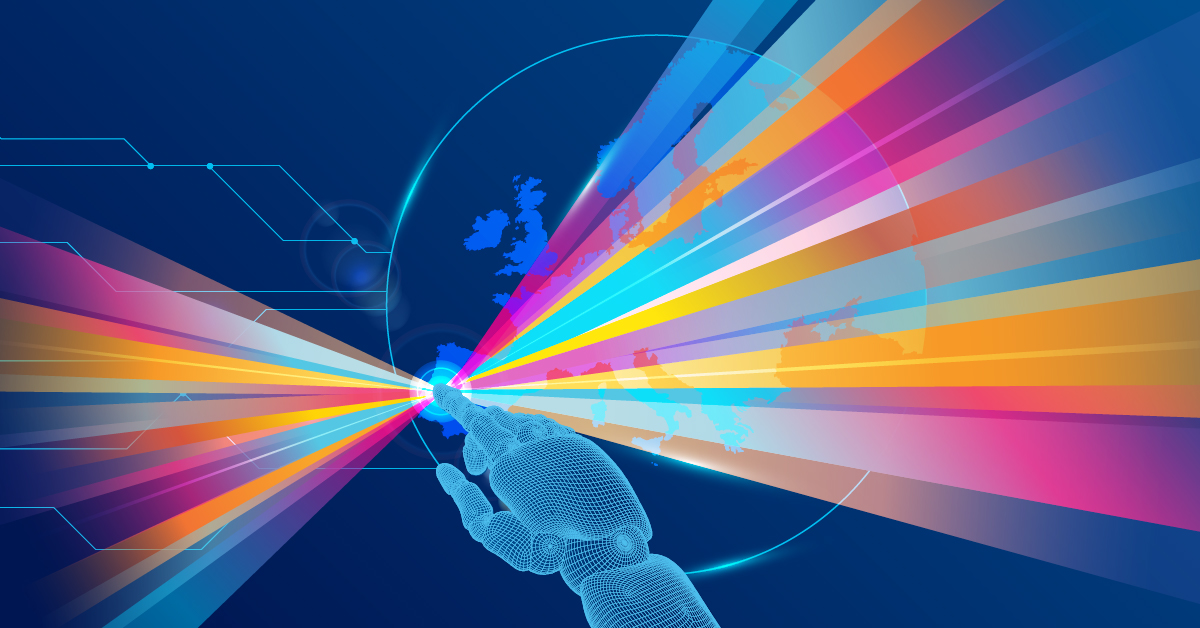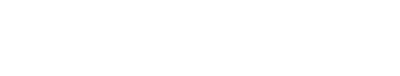Soluções para a Europa
A Europa já foi chão de impérios e palco de guerras. Foi laboratório de ideias, berço da ciência moderna, origem de revoluções e tratados que redesenharam o mundo. Mas foi (e continua a ser) um projeto inacabado. Hoje, diante de novos desafios e fragilidades antigas, o continente procura reencontrar o seu rumo. Oscila entre a fragmentação e a integração, entre a dependência externa e o anseio por soberania, entre a urgência ambiental e o imperativo tecnológico. Mas que soluções para a Europa?
Este artigo revisita alguns dos momentos-chave dessa trajetória: da memória da guerra à fundação da União Europeia; dos relatórios estratégicos ao papel que cabe a Portugal na sua concretização; da exigência de mais inovação à urgência de uma liderança plural. Porque, como no passado, é nos instantes de coragem que a Europa reescreve a sua história – com memória, visão e vontade de futuro.
Como chegámos até aqui?
A Europa tem mais do que uma origem. Há a geográfica, evidente. Há a política, decisiva. E há a mitológica, a mais antiga e, ainda hoje, curiosamente reveladora. Segundo a lenda , Europa era uma princesa fenícia raptada por Zeus, disfarçado de touro branco. Levada para a ilha de Creta, recebeu um novo nome e uma nova identidade. Desde esse episódio fundador, o continente assim designado vive entre as mesmas ambivalências: o idealismo e a força, a identidade e a pertença, a prudência e o impulso.
Mas a ideia de uma Europa unida surgiu muito antes dos tratados. Em 1849, no Congresso da Paz em Paris, e num continente ainda marcado pelas revoluções de 1848, Victor Hugo ousou imaginar os “Estados Unidos da Europa”. O conceito não era apenas retórica literária. Era uma resposta à instabilidade e à violência de um século inquieto: as Guerras Napoleónicas (1803-1815) tinham
redesenhado o mapa europeu, a guerra da independência da Grécia (1821-1830) mobilizara consciências em nome da liberdade, e as guerras civis em Portugal (1832-1934) e Espanha (1833-1839) revelaram o confronto entre velhas monarquias e novos ideais.
A visão de Vítor Hugo não se perdeu, mas as guerras da Crimeia (1853-1856), de unificação na Itália (1848-1870) e na Alemanha (1864-1871), entre França e Prússia (1870- 1871) e nos Balcãs (1875-1878 e 1912-1913) mostraram que o continente se movia ainda ao ritmo do nacionalismo. Depois da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), pensadores como Coudenhove-Kalergi recuperaram a ideia com o movimento Pan-Europa (1923), que propunha a integração como resposta política à fragmentação e aos nacionalismos. Contudo, foi só após nova catástrofe (mais vasta e mais brutal), que o sonho se tornaria possível.
Entre 1939 e 1945, a Europa voltou a ser palco de destruição em larga escala. A Segunda Guerra Mundial deixou feridas físicas, políticas e morais. Deixou também a convicção de que a paz precisava de uma base institucional nova. E foi com esse objetivo que, no Tratado de Paris de 1951, seis países (França, Alemanha Ocidental, Itália, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo) criaram a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), colocando os recursos estratégicos da guerra sob controlo comum.
Em 1951, o Tratado de Paris marcou o arranque da construção europeia, ao reunir seis países na gestão comum do carvão e do aço.
“Um dia virá em que todas as nações do continente se unirão, sem perderem as suas qualidades e a sua identidade, numa fraternidade superior. Um dia virá em que se verá os Estados Unidos da América e os Estados Unidos da Europa, frente a frente, estendendo-se a mão através dos mares, trocando os seus produtos, o seu comércio, a sua indústria, as suas artes, os seus génios; iluminando-se mutuamente com as luzes da liberdade e da paz.”
Discurso de abertura de Vítor Hugo no Congresso da Paz em Paris, 1849
Em 1957, os mesmos seis países fundaram, com o Tratado de Roma (que na verdade se refere a dois tratados assinados no mesmo dia), a Comunidade Económica Europeia (CEE) e a Comunidade Europeia da Energia Atómica (EURATOM). Enquanto a CEE visava construir um mercado comum para garantir prosperidade partilhada, a EURATOM procurava coordenar o desenvolvimento da energia nuclear para fins pacíficos, reforçando a segurança, promovendo a cooperação científica e reduzindo a dependência energética face ao exterior.
Enquanto os tratados consolidavam a integração económica, as sociedades europeias transformavam-se. O Concílio Vaticano II (1962–1965) renovou a Igreja Católica e trouxe uma nova sensibilidade social: mais liberdade religiosa, novos papéis para as mulheres, valorização da consciência individual e abertura ao diálogo entre culturas e gerações. Poucos anos depois, o Maio de 68 dava corpo a uma linguagem política e cultural alternativa, feita de contestação, criatividade e rutura com as hierarquias tradicionais. E no sul da Europa, a democracia chegava depois de décadas de autoritarismo: Portugal (1974), Grécia (1974) e Espanha (1975) iniciavam o caminho da liberdade, que os levaria, também eles, ao centro do projeto europeu.
Paralelamente, a integração política avançava. Em 1979, os cidadãos europeus passaram a eleger diretamente os seus representantes no Parlamento Europeu – um passo importante na construção democrática da União. Em 1985, Alemanha Ocidental, França, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo assinaram o Acordo de Schengen, que lançou as bases para a eliminação das fronteiras internas e a livre circulação de pessoas entre países. O acordo entrou em vigor uma década depois, em 1995, transformando a mobilidade dentro da Europa. E em 1986, com a adesão de Portugal e Espanha à CEE, a Europa deixava de ser um projeto concentrado no centro e no norte: tornava-se um compromisso partilhado e alargado ao sul do continente.
Em 1989, a queda do Muro de Berlim abriu um novo ciclo histórico. A reunificação da Alemanha (1990), o colapso dos regimes comunistas na Europa de Leste e o fim da Guerra Fria criaram as condições para uma Europa mais ampla, mais coesa e mais ambiciosa.
Mas o caminho não foi linear. A partir de 1991 (e até 2001), as guerras nos Balcãs lembraram que a paz exigia mais do que ideais – exigia instituições sólidas e vontade política. Foi nesse contexto que, em 1993, entrou em vigor o Tratado de Maastricht, que marcou o nascimento formal da União Europeia (UE), alargando as suas competências políticas e traçando o rumo para uma união económica e monetária. Dois anos depois, em 1995, a União alargou-se ao norte da Europa com a adesão da Áustria, da Finlândia e da Suécia.
O Euro tornou-se, então, o símbolo mais visível da integração: adotado em 1999 na sua fase contabilística, e colocado em circulação em 2002 como moeda física comum a 12 países. Dois anos depois, em 2004, a UE concretizou o maior alargamento da sua história, com a entrada de 10 novos Estados-membros, maioritariamente do centro e leste da Europa: Polónia, Hungria, República Checa, Eslováquia, Eslovénia, Lituânia, Letónia, Estónia, Chipre e Malta.
Nas manifestações de Maio de 68, os jovens saíram à rua para exigir mais direitos, mais liberdade e um novo rumo para a sociedade.
No dia 9 de novembro de 1989, o Muro de Berlim caiu e com ele ruíram décadas de separação na Alemanha e na Europa.
Em 2005, a proposta de Constituição Europeia foi rejeitada em referendos em França e nos Países Baixos, revelando tensões internas e diferentes visões sobre o futuro da integração. Para dar resposta a esse impasse, foi aprovado o Tratado de Lisboa, em vigor desde 2009, que reformou as instituições e reforçou o papel do Parlamento Europeu. O processo de alargamento prosseguiu: em 2007, juntaram-se a Bulgária e a Roménia; e em 2013, a Croácia tornou-se o 28.º Estado-membro. A União tornava-se não apenas maior, mas também mais diversa, com novas oportunidades, novos desafios e uma complexidade crescente que exigiria constante adaptação.
Em 2015, a crise dos refugiados expôs fragilidades estruturais da União. A chegada massiva de pessoas em fuga da guerra na Síria e de outras regiões instáveis do Médio Oriente e de África revelou profundas divisões internas sobre acolhimento, solidariedade e controlo das fronteiras. O espaço Schengen foi posto à prova por medidas unilaterais e pelo ressurgimento de fronteiras internas. No ano seguinte, em 2016, um referendo no Reino Unido resultou na decisão de sair da União Europeia, um processo concluído em 2020. O BREXIT foi um abalo político, institucional e simbólico. Pela primeira vez, um Estado-membro optava por abandonar o projeto europeu. A União passou a contar com 27 países e teve de se reinventar, reafirmando os valores da integração.
Em 2021, no rescaldo da pandemia de COVID-19, a UE deu um passo histórico: lançou o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), financiado por dívida conjunta europeia. Foi um momento de solidariedade económica sem precedentes, e um sinal claro de aprofundamento da integração. Porém, logo no ano seguinte, em 2022, a invasão da Ucrânia pela Rússia marcou o regresso da guerra em larga escala ao continente europeu. A resposta unida da UE (com sanções, apoio militar e acolhimento de milhões de refugiados) reabriu o debate sobre soberania, segurança e a necessidade de uma defesa europeia mais robusta.
Entre 2023 e 2024, o alargamento voltou ao centro do debate europeu. Para além da Ucrânia e da Moldávia, os Balcãs Ocidentais reivindicam há muito o seu lugar na UE. A ideia de uma Europa geograficamente mais ampla e politicamente mais forte passou a ser não apenas desejável, mas necessária. Em 2024, dois desenvolvimentos confirmaram a ambição da Europa num mundo em transformação. O primeiro foi a aceleração do Pacto Ecológico Europeu (Green Deal), que, aliado a uma nova política industrial, colocou a transição energética, a soberania tecnológica e a autonomia estratégica no centro da agenda europeia. O segundo marco foi a aprovação do AI Act, a primeira legislação abrangente do mundo sobre inteligência artificial. Ao estabelecer regras claras e princípios éticos para o uso da tecnologia, a Europa afirmou-se como uma potência regulatória global, capaz de liderar pela norma. Virgínia Dignum, professora catedrática de IA Responsável na Universidade de Umeå (Suécia), costuma usar a metáfora do automóvel para explicar que regular não significa “travar” a inovação, mas sim permitir que avancemos em segurança – tal como os travões num carro não servem para andar mais devagar, mas sim para podermos ir depressa, sempre com controlo e responsabilidade.
Esta afirmação europeia acontece num cenário global em rápida mutação. A reeleição de Donald Trump em 2025, marcou um afastamento estratégico dos EUA em relação à Europa. O multilateralismo perdeu centralidade, as alianças tradicionais enfraqueceram, as políticas migratórias tornaram-se mais duras e as guerras comerciais voltaram a marcar a política externa norte-americana.
Ao mesmo tempo, as relações com a China tornaram-se mais tensas. A competição económica intensificou-se, os mercados tornaram-se mais instáveis e as cadeias de abastecimento mais vulneráveis. A reconfiguração das alianças globais (com a crescente influência da América Latina e do mundo árabe, a imprevisibilidade da Rússia, a guerra em curso na Ucrânia, e as tensões renovadas entre a Índia e o Paquistão) tornou evidente que o mundo mudou.
Integrada nesta ordem mundial instável, a Europa não pode limitar-se a reagir nem voltar a ser a princesa à espera de resgate. O futuro do projeto europeu depende da sua capacidade para liderar com maturidade, inovar com responsabilidade e agir em nome de um propósito comum.
Três relatórios, um novo rumo para a Europa
Em menos de um ano, três relatórios estratégicos abalaram o debate europeu com diagnósticos rigorosos e propostas ambiciosas. Mario Draghi, Enrico Letta e Manuel Heitor partiram de perspetivas diferentes, mas convergem numa ideia essencial: a Europa precisa de um novo propósito económico. Não se trata apenas de resistir à crise, mas de transformar a incerteza em vantagem competitiva.
| Relatório Draghi: apostar em inovação, descarbonização e segurança
O relatório “The Future of European Competitiveness”, entregue por Mario Draghi à Comissão Europeia, revela que a UE tem menos 270 mil milhões de euros investidos em inovação do que os EUA. Desde 2000, o nível de vida médio nos EUA aumentou quase o dobro face ao da Europa. E, à medida que o crescimento populacional desacelera, estima-se uma perda de quase 2 milhões de profissionais por ano até 2040, pelo que a produtividade passa a ser a única alavanca possível. Draghi, que além de economista, é antigo primeiro-ministro italiano e ex- -presidente do Banco Central Europeu, propõe três eixos estratégicos para inverter este rumo:
1. Colmatar a lacuna da inovação: A Europa continua a gerar talento, investigação e startups. Mas poucas escalam e muitas acabam por sair. Entre 2008 e 2021, 30% dos unicórnios fundados na Europa mudaram a sede para fora do continente (a maioria para os EUA). Também as
três organizações que mais investem em inovação na Europa continuam a ser do setor automóvel. Já nos EUA, são todas tecnológicas. Há mais de 50 anos que nenhuma nova empresa europeia ultrapassou os 100 mil milhões de euros de capitalização. Nos EUA, as seis maiores empresas com valor acima de mil milhões de euros nasceram todas neste período. Draghi propõe desbloquear este potencial com mais investimento, melhor regulação e competências para todos.
2. Acelerar a descarbonização: Apesar da descida recente dos preços, as empresas europeias continuam a pagar 2 a 3 vezes mais pela eletricidade do que as norte-americanas e 4 a 5 vezes mais pelo gás natural. Isto reflete não só a escassez de recursos, mas também falhas
estruturais no mercado europeu da energia: regras que impedem consumidores de beneficiar do custo real da energia limpa e lucros excessivos captados por intermediários financeiros. A UE enfrenta ainda uma concorrência feroz da China, que combina escala industrial, inovação
rápida e controlo de matérias-primas. Para Draghi, a resposta exige um plano conjunto que una a produção de energia limpa, o setor automóvel e a indústria tecnológica.
3. Reforçar a segurança: Na produção de tecnologia digital, nomeadamente semicondutores, 75% a 90% da capacidade mundial está concentrada na Ásia. Draghi defende o desenvolvimento de uma política económica externa europeia mais eficaz: acordos estratégicos com países ricos em recursos, reservas estratégicas e parcerias industriais que garantam cadeias de abastecimento seguras. Apesar de ser o segundo maior bloco mundial em despesa militar, a UE não traduz esse investimento numa capacidade industrial de defesa à altura. Aqui, Draghi propõe mais coordenação, mais escala e interoperabilidade.
A Europa enfrenta uma escolha entre paralisia, saída ou integração. A saída já foi tentada e não trouxe os resultados que os seus defensores esperavam. A paralisia está a tornar-se insustentável à medida que avançamos para maiores níveis de ansiedade e insegurança. Por isso, a integração é a única esperança que nos resta.
Relatório Dragui, “The Future of European Competitiveness”
| Relatório Letta: reanimar o mercado único
Trinta anos depois da criação do mercado único, o seu potencial está longe de esgotado (mas também longe de ser alcançado). No relatório “Much More than a Market: Speed, Security, Solidarity”, o antigo primeiro-ministro italiano Enrico Letta alerta para a urgência de revitalizar este que foi, e continua a ser, o motor económico da UE. Porquê? Porque a fragmentação, as barreiras legais e administrativas, e a falta de coordenação estão a travar o crescimento, a inovação e a autonomia estratégica da Europa.
Apesar de representar cerca de 15% do PIB mundial, a UE continua a operar com mercados de capitais, telecomunicações e energia altamente fragmentados. A eliminação de obstáculos no mercado único poderia, segundo estimativas, acrescentar até 2,6% ao PIB da UE – o equivalente a 228-372* mil milhões de euros por ano (*este intervalo reflete diferentes cenários de implementação das reformas propostas). Letta propõe 5 áreas prioritárias de ação: mobilidade, capital, energia, dados e inovação. E avança com uma proposta ambiciosa: a criação de uma quinta liberdade europeia, dedicada à ciência, à inovação e à educação, para desbloquear o investimento em tecnologias emergentes e preparar o talento necessário à dupla transição digital e climática.
Mas Letta vai além da economia e defende uma reforma profunda da governação do mercado único, com um papel reforçado do Conselho Europeu e da Comissão Europeia, a par da mobilização de todos os atores – governos, empresas, parceiros sociais e cidadãos. O relatório sublinha a importância de reanimar o espírito do diálogo social europeu, lançado por Jacques Delors em 1985, para garantir que a transição ecológica e digital seja também uma transição justa. E propõe ainda a criação de uma Conferência Permanente de Cidadãos, que assegure acompanhamento, legitimidade democrática e envolvimento público nas grandes decisões europeias.
O enquadramento do Mercado Único, assente na definição das quatro liberdades – livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais – baseia- -se fundamentalmente em princípios teóricos do século XX. (…) Uma via possível para a sua renovação passa pela adição de uma quinta liberdade às quatro já existentes, de modo a reforçar a investigação, a inovação e a educação no Mercado Único. Esta quinta liberdade poderá impulsionar avanços em áreas como I&D, utilização de dados, competências, inteligência artificial, computação quântica, biotecnologia, biorrobótica e espaço, entre outras.
Relatório Letta, “Much More than a Market: Speed, Security, Solidarity”
| Relatório Heitor: inovar com ciência e talento europeus
O relatório “Align, Act, Accelerate: Research, Technology and Innovation to Boost European Competitiveness”, coordenado por Manuel Heitor, ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal, parte da seguinte premissa: sem ciência, tecnologia e inovação, a Europa não conseguirá responder aos desafios do nosso tempo, nem manter o seu modelo económico e social.
Fruto de nove meses de trabalho de um grupo de especialistas reunidos pela Comissão Europeia, o relatório traça uma agenda para reforçar o ecossistema europeu de I&D, acelerar a aplicação do conhecimento e alinhar a inovação com os objetivos estratégicos da UE. A proposta passa por ações concretas nos últimos três anos do programa-quadro atual (Horizonte Europa 2025–2027) e pela preparação do próximo ciclo (FP10 2028–2034), com foco em quatro áreas interligadas: excelência científica, competitividade industrial, transformações sociais e consolidação do ecossistema europeu de inovação.
A realidade é preocupante: a Europa continua abaixo da meta de 3% do PIB investido em I&D, e a fuga de talento persiste (cerca de 25% dos investigadores formados na UE trabalham fora da Europa). O relatório alerta ainda para um conjunto de desafios estruturais – desde as alterações climáticas e demográficas, passando pela desinformação, a competição estratégica global e o rápido avanço de tecnologias como a IA, a computação quântica e a biotecnologia, que exigem respostas científicas e políticas coordenadas. Entre as medidas propostas, destacam-se o reforço das infraestruturas de investigação, o apoio a projetos de elevado risco e elevada ambição, o estímulo à colaboração transfronteiriça e a criação de espaços de experimentação regulatória (as chamadas sandboxes) que permitam testar inovações em ambientes controlados.
Este relatório também leva em consideração as significativas incertezas e os desafios únicos do nosso tempo: alterações climáticas, guerra, mudanças demográficas, aumento das desigualdades, pandemias, erosão da democracia e dos direitos fundamentais, crescente competição estratégica global e uma constelação de tecnologias emergentes, bem como a sua interação com a ética, a segurança e a competitividade; transformações no mercado de trabalho, proliferação de notícias falsas e negação da ciência, entre outros. (…) A ciência, a tecnologia e a inovação são a moeda crítica para responder a estes desafios.
Relatório Heitor, “Align, Act, Accelerate: Research, Technology and Innovation to Boost European Competitiveness”
Portugal na Europa: de beneficiário a contribuinte
“Eis aqui, quase cume da cabeça de Europa toda, o Reino Lusitano”, escreveu Luís de Camões, no Canto III, estância 20, de “Os Lusíadas”. Era ali, “Onde a terra se acaba e o mar começa”, que Portugal se afirmava como ponto de partida e não de fim. Já então, não era apenas território: era posição, visão e missão no continente europeu. Séculos depois, Fernando Pessoa retomou a ideia e deu-lhe forma simbólica. Na “Mensagem”, descreve uma Europa pensativa, reclinada sobre si própria, mas ainda voltada para o futuro, “posta nos cotovelos”, de Oriente a Ocidente. “O rosto com que fita é Portugal”, escreveu.
Portugal não foi feito para ficar de costas para o mundo. Sempre que pôde, avançou. Sempre que teve de esperar, preparou-se. E quando finalmente chegou o momento de integrar o projeto europeu, em 1986, não hesitou. Trazia consigo uma democracia fresca, construída a pulso desde o 25 de Abril. Trazia também um povo habituado a navegar incertezas e a imaginar futuro. A adesão à CEE foi, mais do que um passo institucional, foi um gesto civilizacional, que trouxe modernidade e esperança.
Os fundos estruturais foram decisivos para transformar o país: das autoestradas ao abastecimento de água e saneamento básico, da expansão da rede escolar e universitária à requalificação urbana e patrimonial. Programas como o FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional)
e o FSE (Fundo Social Europeu), bem como o PRODER (Programa de Desenvolvimento Rural), o POCH (Programa Operacional Capital Humano), o PNI (Plano Nacional de Infraestruturas) e o Portugal 2020, foram determinantes para modernizar setores inteiros – da agricultura às pescas, da indústria ao turismo. Permitiram ainda apoiar pequenas e médias empresas, combater o desemprego jovem e promover o desenvolvimento do interior do país.
A evolução foi também cultural e estratégica: Portugal abriu-se ao mundo. Foi país-anfitrião da Expo 98, mostrou capacidade de organização com o Euro 2004, reforçou a sua diplomacia atlântica e de proximidade aos países lusófonos, e hoje acolhe eventos globais como as Jornadas Mundiais da Juventude ou o Web Summit. Mais recentemente, com o PRR, os fundos europeus estão a ser canalizados para a transição digital, a inovação empresarial, a sustentabilidade energética e o reforço dos serviços públicos – da saúde à habitação, da administração pública às escolas.
Mas hoje, Portugal é também um contribuinte ativo em áreas decisivas para o futuro da Europa, seja ao nível das infraestruturas digitais, do talento científico, da transição energética ou da diplomacia multilateral.
O que é que Portugal tem?
A sua geografia tornou-se um ativo muito cobiçado. Com uma posição atlântica que liga naturalmente a Europa às Américas, a África à Ásia, Portugal está a consolidar-se como um hub de interconexão de dados globais e porta para o mundo. Atualmente, cerca de 25% dos cabos submarinos de fibra ótica que ligam continentes passam por território português, e até 2026 o país espera ter ligações diretas com 60 países nos cinco continentes, refere um estudo da DE-CIX. Portugal contava, no início de 2024, com 33 data centers em operação. Em Sines, a geografia volta a ser uma vantagem, ao ver nascer um dos maiores e mais sustentáveis data centers hyperscale da Europa, desenvolvido pela Start Campus.
Na energia, os números falam por si: em 2023, 72% da eletricidade consumida em Portugal teve origem em fontes renováveis, de acordo com dados da REN – Redes Energéticas Nacionais. A produção hídrica foi responsável por 25% do total, seguida da eólica (23%), solar (8%) e biomassa (5%). O país traçou a meta de atingir 85% de eletricidade renovável até 2030, impulsionado por projetos de grande escala em energia solar, eólica offshore, hidrogénio verde e soluções de armazenamento. O país possui também algumas das maiores reservas de lítio da Europa. Este recurso (essencial para baterias, mobilidade elétrica e armazenamento de energia) foi destacado no Relatório Draghi como peça central da autonomia estratégica europeia em matéria de energia e tecnologia.
No turismo, Portugal continua a ser um dos destinos mais atrativos da Europa. Em 2023, o país recebeu mais de 26,5 milhões de turistas, batendo recordes históricos, segundo o Instituto Nacional de Estatística. O setor representa atualmente cerca de 15% do PIB nacional, sendo não apenas um motor económico, mas também uma montra internacional de hospitalidade, sustentabilidade e qualidade de vida.
Portugal é reconhecido internacionalmente pela sua segurança, ocupando o 7.º lugar no Global Peace Index 2024. Além disso, conta com uma das melhores coberturas de internet de alta velocidade da Europa, com mais de 90% dos lares ligados por fibra ótica, segundo a ANACOM. O clima ameno, o custo de vida acessível, a gastronomia e a estabilidade política consolidam o país como um destino atrativo para viver, investir e inovar.
Também na ciência, na tecnologia e na inovação, Portugal tem dado passos firmes. O investimento em I&D atingiu 1,7% do PIB em 2022, o valor mais elevado da história recente, segundo a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC). Lisboa afirmou-se como uma das capitais tecnológicas mais dinâmicas da Europa, um ponto de encontro para startups emergentes, talento internacional e investimento em inovação. A nível nacional, Portugal já viu nascer oito unicórnios (empresas tecnológicas avaliadas em mais de mil milhões de euros), um sinal de um ecossistema com ambição global e cada vez mais maturidade.
Mas a dinâmica vai além do empreendedorismo. Portugal é hoje um dos países da UE com maior crescimento no registo de patentes por milhão de habitantes, o que indica capacidade real de transformar conhecimento em valor económico – uma das prioridades destacadas no relatório Draghi. Também no ensino superior, o país tem indo a consolidar uma base sólida de talento. Universidades como o Instituto Superior Técnico, a Universidade do Porto, a Universidade NOVA de Lisboa ou a Universidade de Coimbra surgem, ano após ano, bem posicionadas em rankings internacionais em áreas como engenharia, informática, ciências sociais, medicina ou gestão.
Portugal tem surpreendido pelo dinamismo tecnológico, mas também pelo seu papel discreto e eficaz na diplomacia europeia e internacional. Num tempo de fragmentação e competição estratégica, o país afirma-se como ponte entre mundos, com uma tradição de mediação, cooperação e construção de consensos. Não é por acaso que, vindos deste país, tenham emergido nomes com impacto global: António Guterres, atual Secretário-Geral das Nações Unidas; António Costa, escolhido para presidir ao Conselho Europeu; António Damásio, neurologista, filósofo e professor na University of Southern California; Elvira Fortunato, cientista reconhecida mundialmente; ou Manuel Heitor, voz influente nas políticas europeias de ciência e inovação já citado neste artigo.
Por tudo isto, Portugal tem credibilidade e visão para influenciar o presente e o futuro da Europa. Pode não ter a força económica de outros Estados-membros, mas tem confiança que inspira, capacidade de escutar e atitude construtiva para participar. É a partir desta combinação de talento, tecnologia, diplomacia e uma vocação para unir que, cada vez mais, emergem soluções feitas em Portugal com ADN europeu e impacto global.
O caso Quidgest
Num momento em que a Europa debate a sua autonomia tecnológica e a necessidade de soluções alinhadas com os seus valores, a Quidgest destaca-se como um exemplo de inovação com ADN europeu. Fundada há 37 anos em Portugal, e mantendo-se desde então 100% portuguesa e independente, é hoje um dos maiores produtores de software da Europa, com um portefólio vasto, especializado e orientado para setores críticos de
governos a multinacionais ou instituições multilaterais.
A sua abordagem é singular por várias razões estruturais. Desde cedo, a Quidgest apostou numa visão própria da transformação digital, assente na geração automática de software através de Inteligência Artificial Generativa Híbrida (simbólica + neuronal). A sua plataforma Genio, desenvolvida desde os anos 90, combina padrões simbólicos e modelos neuronais para criar sistemas complexos com rapidez, precisão e segurança – sem comprometer a personalização nem incorrer nas “alucinações” típicas de outros modelos.
Outro fator diferenciador é a combinação entre conhecimento técnico avançado e experiência real nos setores em que opera. Mas talvez o maior ativo da Quidgest seja mesmo o seu talento: equipas multidisciplinares que integram engenharia de software e consultoria de negócio, com um profundo domínio dos desafios específicos dos seus clientes e parceiros.
Sendo a soberania, a confiança e a transparência tecnológica temas centrais para a Europa, as soluções da Quidgest cumprem integralmente os regulamentos europeus, assegurando cibersegurança, ética e compatibilidade legal. E fazem-no com uma estrutura sólida, capitalizada, que resiste à tendência de fusões e aquisições, preservando uma visão de longo prazo e a autonomia para continuar a servir a Europa – e o mundo – com tecnologia de ponta feita em Portugal.
A voz dos líderes
A Europa nasceu de lideranças fortes. Schuman, Monnet, Adenauer e De Gasperi — figuras que, no rescaldo de uma guerra devastadora, ousaram propor uma união entre antigos inimigos. Foi a sua visão que lançou as bases de um projeto inédito: um continente unido por tratados e valores, não por (re)conquistas.
Hoje, a liderança europeia assume novas formas. Já não depende apenas de figuras históricas ou de grandes declarações. Expressa-se em decisões técnicas, negociações complexas, consensos difíceis. E também (talvez sobretudo) na capacidade de ouvir, de propor soluções concretas para problemas partilhados. É neste espírito que reunimos, nas páginas seguintes, o contributo de vários líderes que pensam e constroem a Europa, ajudando-nos a refletir sobre questões cruciais como governação, empreendedorismo, saúde, educação, segurança, transição verde, inclusão social ou diplomacia, para citar algumas.
Cada contributo é um ponto de partida. Juntos, formam um retrato possível, e necessário, de uma Europa que sabe escutar para melhor agir. Mas este debate não se esgota nestas páginas, nem na Q-Day Conference 2025, evento que iremos organizar sob o mesmo tema deste artigo, “Soluções para a Europa”, a 16 de setembro, na Culturgest de Lisboa. A construção da Europa faz-se com todas as vozes.